Cansado das declarações empoladas e de indignações capengas, resolvi apresentar alguns exemplos práticos de como funcionam as coisas na minha área, na universidade. A ideia básica é de que simplificações ideológicas e discursos irritados estão frequentemente baseados em desconhecimento dos mecanismos. Antes de pensar em perversidade, vale a pena dar uma boa chance à falta de informação.
A geração de idéias é um processo colaborativo. Não por opção ideológica ou fundamentalismo de qualquer cor política, mas pela natureza das ideias. A internet não teria surgido sem as iniciativas dos pequisadores militares do DARPA, mas se materializou como sistema planetário através do www criado pelo britânico Tim Berners-Lee, que não o teria criado se não fosse o processo colaborativo do centro europeu de pesquisas nucleares (CERN) onde tinha de fazer conversar pesquisadores de diversos países e gerar sinergia entre as próprias pesquisas. Mas nada disto teria surgido sem que brilhantes físicos tivessem iventado anos antes o transistor, o microprocessador e semelhantes, fruto de pesquisas universitárias e empresariais. Os satélites que permitem que as ideias fluam em torno do planeta resultam de investimentos públicos russos e americanos em pesquisas e infraestruturas espaciais. Sem isto, como escreve Gar Alperovitz, Bill Gates na sua garagem teria de trabalhar com tubos catódicos, e Google seria uma ideia solitária. (3)
Em maio de 2011 foi publicado um artigo meu na revista Latin American Perspectives, da Califórnia. Sou obrigado a publicar pois sem isto o programa da PUC-SP onde sou professor não terá os pontos necessários ao seu credenciamento. Publicar um artigo normalmente significa disponibilizar uma pesquisa para que outros dela possam aproveitar, e para assegurar justamente o processo colaborativo onde uns aprendem com os outros e colocam a ciência sempre alguns passos mais à frente.
Em termos acadêmicos, a revista mencionada é classificada como “internacional A” pelo Qualis, e isto soma muitos pontos no curriculo. A universidade funciona assim: quem não publica se trumbica, para resgatar o Chacrinha. A versão do mesmo ditado em Harvard apareceu sob forma de um pequeno cartaz que puseram em baixo de um crucifixo na parede: “Foi um grande mestre, mas não publicou nada”. Com justa razão foi crucificado. Publicar é preciso.
Mas alguém vai ler? No século XXI, os atos de publicar e de disponibilizar se dissociaram. Não constituem mais o mesmo processo. Quando me comunicaram que o artigo foi publicado, fiquei contente, e solicitei cópia. Me enviaram o link da Sage Publications, empresa com fins lucrativos que me informa que posso ver o artigo que eu escrevi, com as minhas ideias, artigo aliás sobre a nova geração de intelectuais no Brasil, pagando 25 dólares.
Esta soma me permite acessar o meu artigo, com minhas ideias, durante 24 horas. Mas posso ver no dia seguinte pagando outra vez, e posso também dizer aos meus amigos que leiam o meu artigo, pagando a mesma soma. A Sage hoje monopoliza cerca de 500 revistas científicas, segunda declaração do seu site. Eu, como autor, fico no dilema: tenho de publicar nestas revistas, para ter os pontos, e para a minha sobrevivência formal. Mas aí ninguém lê. E se disponibilizo o texto online, entro na ilegalidade. Ninguém me pagou este artigo. A Sage é generosa nas ameaças sobre o que me acontece se eu disseminar o artigo que eles publicaram.(4)
A minha solução, foi abrir espaço no meu blog, e colocar o artigo em formato de manuscrito, sem menção de que foi publicado pela Latin American Perspectives. Muitas pessoas acessam o meu site. Não vou impor aos meus colegas um pedágio de 25 dólares, eles que já não têm muita propensão a perder tempo com os meus textos. Tenho um duplo exercício, publicar no papel para ter pontos, e publicar online, o que curiosamente não dá pontos, para ser lido.
Tenho de reconhecer que recebi igualmente um mimo da Sage publications, sob forma de um e-mail:
“Thank you for choosing to publish your paper in Latin American Perspectives. SAGE aims to be the natural home for authors, editors and societies.”(5) O pessoal científico da
Latin American Perspectives, gente que pesquisa e publica, e se debruça essencialmente sobre conteúdos, não tem nada a ver com isto. Ronald Chilcote ficou espantado ao saber que tenho de pagar para ler o meu artigo. Uma empresa comercial terceirizada se apresenta de maneira simpática como “o lar dos autores”, e o direito autoral consiste no autor ter o direito de ler o seu artigo pagando à editora, que aliás não lhe pagou nada, e tampouco criou coisa alguma.
De onde vem este poder? Eles sabem que tenho de publicar nas revistas referenciadas, e não tenho escapatória. É um pedágio sem via lateral. O que lhes permite me enviar o seguinte aviso:
“The SAGE-created PDF of the published Contribution may not be posted at any time”.(6) Em si, é até divertido, o
“Sage-created PDF”, como se colocar o artigo em PDF fosse o ato da criação, e não a trabalheira que tive de fazer o artigo, ou o construção da bagagem intelectual que tenho e que para já motivou o convite para escrevê-lo.
A SAGE não é exceção. George Monbiot, no Guardian (30/08/2011) apresenta a situação geral: “Ler um único artigo publicado par um dos periódicos da Elsevier vai lhe custar $31,50. A Springer cobra $34,95. Wiley-Blackwell, $42. Leia dez artigos, e pagará 10 vezes. E eles retêm o copyright perpétuo. Você quer ler uma carta impressa em 1981? São $31,50...Os retornos são astronômicos: no último ano fiscal, por rexemplo, o lucro operacional da Elsevier foi de 36% sobre cobranças de dois bilhões de libras. Resulta um açambarcamento do mercado. Elsevier, Springer e Wiley, que conpraram muitos dos seus competidores, agora controlam 42% ds publicações”.
Há saida para os autores? “Os grandes tomaram controle dos periódicos com o maior impacto acadêmico, nos quais é essencial pesquisadores publicarem para tentar obter financiamentos e o avanço das suas carreiras...O que estamos vendo é um puro capitalismo rentista: monopolizam um recurso público e então cobram taxas exorbitantes. Uma outra forma de chamar isto é parasitismo econômico”. Não são apenas os pesquisadores que são penalizados: o custo das assinaturas das revistas pelas bibliotecas universitárias é simplesmente proibitivo.(7)
Outro importante estudo, de Glenn McGuigan e Robert Russell, constata que “o poder de negociação das faculdades e professores como fornecedores de propriedade intelectual é fraco. A indústria é altamente concentrada nas mãos de três editores com fins lucrativos que controlam a distribuição de muitos periódicos inclusive os maiores e de maior prestigio. Estes fatores contribuem para um ambiente de negócios em que os editores comerciais podem aumentar os preços por falta de fontes alternativas de distribuição de conteúdos intelectual em mãos de periódicos acadêmicos.” Os autores defendem o acesso aberto à produção científica.(8)
É importante aqui considerar a dimensão legal: a propriedade intelectual é temporária. Em termos jurídicos, não é um direito natural. A bicicleta é minha, posso desmontar ou guardar na garagem para que enferruje. Aliás até isto não me parece muito correto, se é para deixar enferrujar, melhor dar para uma moleque que se divirta com ela. Mas no caso da ideia, a própria legalidade é diferente. É por isto que copyrights e patentes valem por tempo determinado, extinguindo-se: foram criados não para defender o direito de propriedade do autor, sob forma de copyrights, ou para assegurar um pecúlio para herdeiros, mas para assegurar ao autor uma vantagem temporária que o estimule a produzir mais ideias.
Quando paguei a bicicleta, é minha e ponto. A ideia que pus no papel faz parte de uma construção social. Não é porque eu tive a ideia que ela é me é temporariamente reservada (causa) mas sim porque a propriedade temporária deve estimular a criatividade (objetivo). Isto é totalmente coerente com o fato da propriedade, conforme está na nossa constituição, ter de preencher uma função social. O travamento do acesso à produção científica, no caso, prejudica o objetivo, que é o estímulo à criatividade.
O primeiro ministro da Inglaterra, David Cameron, encarregou em novembro de 2010 uma comissão dirigida por Ian Hargreaves de responder a uma questão simples, que depois de ampla pesquisa foi respondida com clareza: “Poderia ser verdade que leis desenhadas há mais de três séculos com o propósito expresso de criar incentivos econômicos para a inovação através da proteção dos direitos dos criadores, estejam hoje obstruindo a inovação e o crescimento econômico? A resposta curta é: sim.”(9)
Como se dá esta obstrução? O exemplo da SAGE, acima, é um mecanismo. Mas como as pessoas são bombardeadas de declarações sobre ética, e desconhecem os processos jurídicos a que se submete o autor, apresentamos um outro caso concreto. A pedido de uma grande universidade privada, mas onde trabalham vários colegas, e na linha da colaboração que faz parte da cultura acadêmica, fiz uma palestra sobre economia. Gravaram a palestra, que naturalmente tem a minha imagem e as minhas ideias. O documento que me apresentaram para assinar está abaixo, apenas retirei o nome da instituição para não criar dificuldades às pessoas que me convidaram. Sugiro ao leitor que não pule o parágrafo como fazemos normalmente com os textos jurídicos que assinamos, mas leia linha por linha, dando-se conta dos termos. Os comentários entre parênteses são evidentemente meus, assinalados com LD:
“Pelo presente instrumento, o Participante acima qualificado (este sou eu, LD) e abaixo assinado cede e autoriza de forma inteiramente gratuita, (esta é a parte de direito autoral, LD) os direitos da sua participação individual (imagem, voz, performance e nome) nas gravações, transmissão e fixações da obra coletiva intelectual/artística intitulada a produção da equipe da TV (xxx), a ser exibido pelo Canal Universitário e/ou pelo site da TV (xxx), no portal da Universidade (xxx). A presente cessão de participação individual, na forma retro mencionada, compreenderá a sua livre utilização, bem como seu extrato, trechos ou partes, podendo ainda ser-lhe dada qualquer utilização econômica, (ou seja, podem comercializar, eu não, LD) sem que ao Participante caiba qualquer remuneração ou compensação. (notem que é uma universidade paga, LD) O participante responsabiliza-se integral e exclusivamente por suas declarações, comportamento e pelas informações fornecidas na gravação do programa, inclusive no que tange à propaganda enganosa ou abusiva a que der causa, bem como quaisquer outras obrigações que decorram destas, tais como: direitos autorais, de propriedade, imagem e impostos. (qualquer enrosco, quem paga sou eu, LD) Nenhuma das utilizações previstas acima têm limitação de tempo ou de número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no exterior, sem que seja devida ao Participante qualquer remuneração (de novo, os meus direitos autorais, LD). Para fins do presente instrumento, o Participante, neste ato, autoriza a proceder a qualquer transformação, alteração, incorporação, complementação, redução, ampliação, junção e/ou reunião da participação individual por qualquer meio e processos (qualquer deformação da minha fala por recortes é lícita, LD). O presente instrumento é firmado em caráter irrevogável e irretratável obrigando-se as partes por si, seus herdeiros e sucessores (portanto filhos e netos, LD) a qualquer título ficando eleito o foro da Comarca de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo.”
Cada frase destas libera a instituição, e limita os meus direitos. Porque me convidaram? Porque tenho décadas de trabalho acumulado, nome construído, o que faz com que me convidem e considerem a minha fala como tendo valor. Que valor há para mim? Que proteção? Quando contestei o texto, me disseram que era “padrão”. Perguntei “padrão de quem?” Mas não tive resposta, pois não é um advogado que leva o papel para o cientista assinar, ele tem outras coisas a fazer. E a mocinha me disse que não tem problema, é só assinar, é rotina. Eu assinei cortando um conjunto de palavras e acrescentando outras, o que invalidou o documento, mas ficaram contentes. O problema é que eu posso me dar ao luxo de massacrar um documento absurdo. Mas qualquer cientista principiante fica tão feliz de ser publicado, que não ousará contestar nada.
Os direitos todos ficam com uma empresa, que apenas gravou as ideias, o que francamente com as tecnologias atuais não representa grande investimento. E as obrigações e riscos todos, naturalmente, com o autor. No triângulo criador-intermediário-usuário, quem manda é o intermediário, não quem cria, e tampouco quem lê ou estuda, que é afinal o objeto de todo o nosso esforço. Manda quem fornece o suporte material, e este é cada vez menos necessário. E tal como Ian Hargreaves, Joseph Stiglitz e o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, muita gente começa a se perguntar qual o sentido deste sistema.
Terceiro exemplo: O MIT, principal centro de pesquisa nos Estados Unidos, há alguns anos decidiu virar a mesa: criou o OCW (Open Course Ware), que libera o acesso do público, gratuitamente, a toda a produção científica de todos os seus professores e pesquisadores, Estes podem se recusar, mas na ausência de instruções específicas, o “default” é que tudo apareça online no site ocw.mit.edu . Qualquer um pode acessar gratuitamente e instantaneamente cerca de dois mil cursos disponibilizados. Em poucos anos, o MIT teve mais de 50 milhões de textos e vídeos científicos baixados, uma contribuição impressionante para a riqueza científico-tecnológica do planeta. O que afinal é o objetivo.
É interessante pensar o seguinte: ao saber que os seus trabalhos estão sendo seguidos e aproveitados em milhões de lugares, gratuitamente, os professores e pesquisadores se sentem mais ou menos estimulados? Cobrar acesso pelas suas ideias seria mais estimulante? O fato fantástico de eu poder escrever com um computador que da minha mesa acessa qualquer informação em meios magnéticos em qualquer parte do planeta, é o resultado de uma amplo processo de construção social colaborativa, onde os avanços de uns permitem os avanços de outros. Na minha visão, temos de reduzir drasticamente os empolamentos ideológicos, e pensar no que melhor funciona.
Quarto exemplo. Nas três universidades de linha de frente em São Paulo, a USP, a PUC-SP e a FGVSP, mas seguramente também em outras instituições, há salas de fotocópia com inúmeros escaninhos de pastas de professores. Os alunos obedientemente, mesmo nas pós-graduações, vão procurar as pastas, e levam fragmentos de livros (limite de um capítulo) fotocopiado. Um capítulo isolado, para uma pessoa que está estudando, e portanto na fase inicial de conhecimentos específicos, é mais ou menos um Ovni. E o professor não tem opção, xerocar o livro inteiro é crime.
Numerosas universidades de primeira linha nos Estados Unidos já se inspiram no exemplo do MIT. Para os fundamentalistas da propriedade intelectual, seria interessante mencionar um comentário do Bill Gates, que cobra bem, mas entende perfeitamente para onde sopram os ventos: “
Education cannot escape the transformative power of the internet, says Microsoft chairman Bill Gates. Within five years students will be able to study degree courses for free online”(10) Entre nós, predomina a prehistória científica. O Creative Commons ainda apenas começa a ser difundido. A geração de espaços colaborativos de interação científica está no limbo.(11)
Eu, que não sou nenhum MIT, criei modestamente o meu blog,
dowbor.org, e disponibilizo os meus textos online. Resultam muitos leitores, e muitos convites. Os meus livros continuam vendendo. Os convites por vezes me remuneram. E realmente, quando uma ideia instigante de um colega me puxa para uma pesquisa inovadora, a motivação é outra. Não é porque haveria uma cenoura no fim do processo de criação que as pessoas criam, mas pelo prazer intenso de sentir uma ideia se cristalizar na cabeça. Ao caminhar de maneira teimosa atrás de uma ideia ainda confusa na minha cabeça, preciso consultar, folhear e descartar ou anotar dezenas de estudos de outros pesquisadores, até que chega a excitação tão bem descrita por Rubem Alves com o conceito pouco científico de “tesão”, e que Madalena Freire chama de maneira mais recatada de “paixão de conhecer o mundo”.
O potencial da ciência online, do open course, é que eu posso acessar quase instantaneamente o que se produziu em diversas instituições e sob diversos enfoques científicos sobre o tema que estou pesquisando, o que me permite chegar ao cerne do processo: uma articulação inovadora de conhecimentos científicos anteriormente acumulados. Esta aumento fantástico do potencial criativo que o acesso permite é que importa, e não o fato de ser gratuito. E a seleção dos bons artigos se faz naturalmente: quando me chega uma ótima análise, obviamente repasso para colegas.
É um processo de seleção que decorre da própria utilidade científica da criação, e que permite inclusive que circulem artigos que são bons mas de autores pouco conhecidos, que não teriam acesso aos circuitos nobres da publicação tradicional. Agora, se eu for pagar 25 dólares a cada vez que tenho de folhear um artigo para ver se contém uma inovação que contribui para a minha pesquisa, ninguém progride. Quanto ao xerox, francamente, temos de ter pena do clima, das árvores, e dos alunos. E porque não, até dos professores.
Urge que as nossas universidades se inspirem no MIT e em outras grandes universidades que estão desintermediando a ciência, favorecendo um processo colaborativo e ágil entre os pesquisadores do país e inclusive no plano internacional. É uma imensa oportunidade que se abre para um salto no progresso científico. O atraso, nesta área, custa caro.
Notas1. Ladislau Dowbor é professor titular da PUC-SP nas pós-graduações em economia e administração, autor de numerosos estudos disponíveis em
http://dowbor.org ou
http://dowbor.org/wp2. Instamos o Governo que assegure que no futuro, as políticas relativas a questões de propriedade intelectual sejam construídas sobre a base de fatos, e não do peso dos lobbies.
3. Gar Alperovitz e Lew Daly – Apropriação Indébita – Ed. Senac, 2010 -
http://dowbor.org/resenhas_det.asp?itemId=dd6ad9fb-d10b-4451-8e87-2a0b5f2eca0d4. Você pode ler o meu abstract de graça (!) em
http://bit.ly/g3TtXO5. “Obrigado por publicar o seu artigo na Latin American Perspectives. O objetivo da SAGE é ser o lar natural dos autores, editores e sociedades”.
6. “O PDF criado pela SAGE da Contribuição publicada não poderá ser postado (colocado online
ou enviado, LD) em nenhum momento” (o que eu imagino que devo interpretar como nunca, LD).
7. George Monbiot, How did academic publishers acquire these feudal powers? The Guardian, August 29, 2011
http://dowbor.org/ar/the%20guardian.doc8. Glenn S. McGiguan and Robert D. Russell, 2008, The business of Academic Publishing,
http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v09n03/mcguigan_g01.html9. Digital Opportunity: A Review of Intellectual Property and Growth – An Independent Report by Professor Ian Hargreaves, May 2011, p.1 –
http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf10. New Scientist, 14 August 2010, p. 23 (techcrunch.com, 6 August) “A educação não pode escapar do poder transformador da internet, diz o chairman da Microsoft Bill Gates. Dentro de cinco anos os estudantes poderão cursar faculdades gratuitamente online”. Note-se que em junho de 2011 o Ministério de Educação, Ciência e Tecnologia da Coréia do Sul anunciou a disponibilização online de todos os livros-texto online, para todo o sistema educacional, até 2015.
http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2011/06/30/2011063001176.html




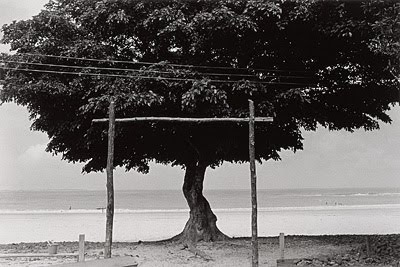









 orcid.org/0000-0002-5015-4273
orcid.org/0000-0002-5015-4273














